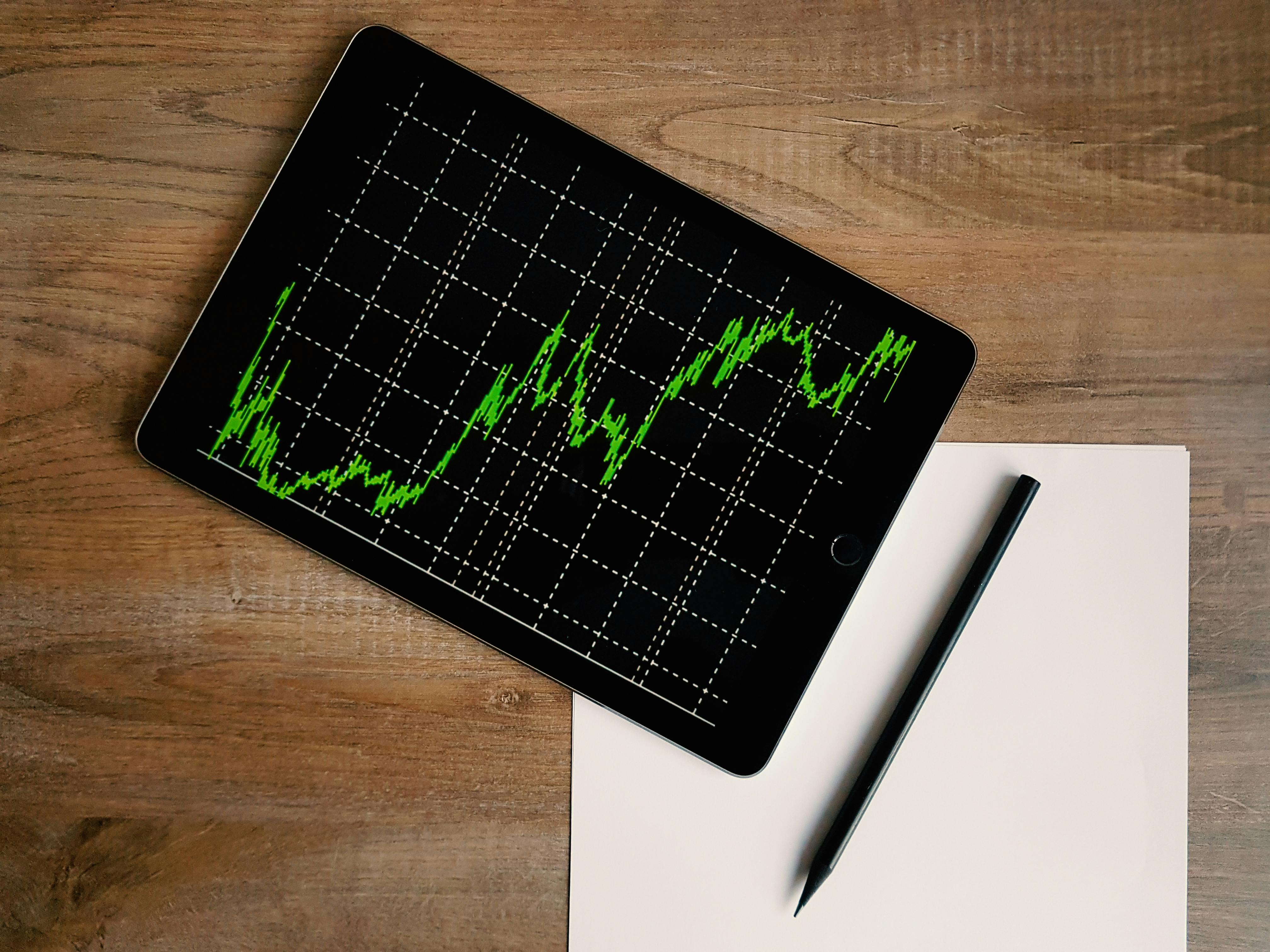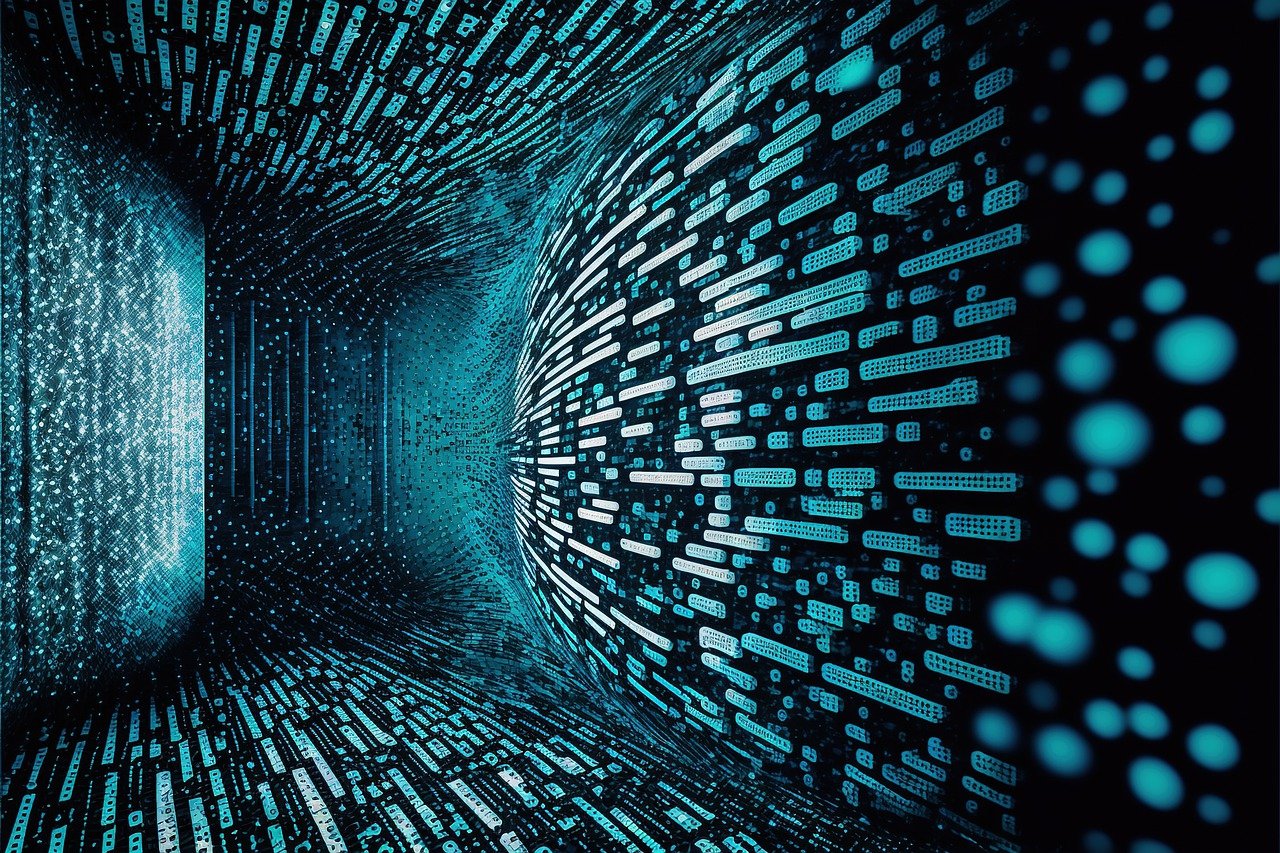Big Techs, iniciadoras de pagamento e operações de concentração defensiva

“Já precisas largar dessa folgança”,
disse ele, “que estirado sobre a pluma,
ou sob a colcha, a fama não se alcança,
e quem sem ela sua vida consuma
tal vestígio de si deixa na terra
como fumo no ar, e n’água, espuma [...]
(Dante Alighieri, A Divina Comédia, Inferno, Canto XXIV)
Houve um tempo em que a concorrência era especializada e mais ainda no setor financeiro. Concorriam nele empresas financeiras, antigas e experimentadas na área. Quando muito, novos participantes se aventuravam em papéis auxiliares, por exemplo os correspondentes bancários que, dentro de lojas comerciais, recebiam pedidos de crédito de consumidores ávidos.
A tecnologia mudou tudo isso. No início permitindo que novas instituições sujeitas a regulamentação mais simples, as instituições de pagamentos, operassem transferências financeiras, inclusive para compras. E isso sem ter de tomar decisões discricionárias sobre concessão de crédito, que não era seu objeto: apenas obedecem às determinações de seus clientes, e, inexistentes essas determinações, guardam tipicamente o dinheiro em depósitos no Banco Central do Brasil ou investido em títulos públicos. Essas entidades, as emissoras de moeda eletrônica, formaram a primeira geração das fintechs ligadas ao comércio. Ao fazê-lo, permitiram o desempenho de atividade “financeira” por grandes grupos varejistas ou afins, que as criavam do zero, ou mais frequentemente adquiriam instituição de pagamento já constituída, com clientela incipiente ou nem tanto. Essa a causa da onda de operações societárias no setor de fintechs.
Mas o problema das evoluções é que não param. E em 2020 outra fintech foi oferecida pela regulamentação, as iniciadoras de transações de pagamento, criadas, não por acaso, em conjunto com as regras do sistema bancário aberto (open banking).
Essa regulação não se limitou a prever o fluxo livre de informações típico do open banking, mas facultou a criação dessas entidades iniciadoras, cujo objeto social era justamente estimular esse fluxo através do fornecimento de interface favorável, sem precisar gerenciar recursos ou deter fundos.
Seria em todo caso um erro se levar pelo romantismo em relação às iniciadoras de transações de pagamento, vendo-as como Davi a enfrentar a força de Golias. Em muitos, senão a maioria, dos casos, podem ser elas a ocupar a posição do gigante filisteu, faltando ainda aparecer a funda que possa derrubá-lo.
Para se perceber isso, note-se que foram dotadas de obrigações regulatórias bem mais leves que as demais instituições de pagamento. De início, como destacado, por não gerenciarem recursos financeiros. Além disso, não precisam autenticar os usuários, bastando que forneçam interface de comunicação com clientes (artigo 3º, § 2º da Resolução BCB nº 80/2021) ficam assim livres de atividade que pudesse gerar responsabilidade em caso de erro. Por fim, requisitos de qualificação mais genéricos bastam para seus controladores e administradores: capacidade econômico-financeira no caso dos primeiros (artigo 2º, inciso I da Resolução BCB nº 81/2021), e capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo para os últimos (artigo 2º, inciso VIII da Resolução BCB nº 81/2021).
Mesmo em matéria de capital/patrimônio líquido mínimo, as iniciadoras levam vantagem, quando atuam isoladamente. Proposta do Banco Central do Brasil de atualização de regras sobre a matéria, apresentada no final do ano passado (Edital de Consulta Pública nº 78, de 11 de novembro de 2020), faz com que instituições de pagamento com atuação isolada se rejam por regras mais simples e muito menos onerosas, e não se sujeitem a cálculo de capital regulatório pelas complexas e onerosas regras de Basileia1 recomendadas para as que tenham em seu grupo instituições financeiras.
Todas essas características dispensam experiência financeira ou no mercado de pagamentos para que se possa obter autorização de funcionamento e tocar as operações das iniciadoras. O que pode favorecer, e muito, entidades sem experiência no mercado de pagamentos, mas versadas na comunicação de massa e no manuseio algorítmico de dados, especializando-se em entender a preferência de consumidores. Essas entidades podem ser sites de comércio eletrônico ou de busca, redes sociais ou de mensagens, sendo usualmente conhecidas pelo anglicismo big techs. Constituem hoje as empresas com maior valor de capitalização de mercado do mundo, e seu poder financeiro ultrapassa o dos bancos mais capitalizados.2
Embora sejam deficientes em conhecimento do mercado de pagamentos e de seus riscos, tais entidades se destacam pela capacidade de conexão com o investidor através de estratégias avançadas de comunicação. E, ainda mais importante, por outros dois elementos. O primeiro é o enorme volume de dados acumulados em suas atividades ordinárias. O segundo, e talvez mais decisivo, seja a capacidade de tratar algoritmicamente esses dados para intuir percepções e necessidades de consumidores de serviços financeiros. Aqui qualquer exemplo restringe a abrangência do todo, bastando dizer que a informação obtida por uma big tech relativamente a sites visitados por uma pessoa, termos de busca usados, grupos de mídia social preferidos, podem guardar importante relação com o momento de sua vida, suas necessidades financeiras e mesmo capacidade de receber crédito.3
Isso permitiria que instituições de pagamento ligadas a big techs, no regime atual, operassem com vantagem em relação a instituições financeiras e de pagamento, e mesmo em relação a varejistas que passaram a desenvolver atividades de pagamento. As big techs, operando sob a forma de iniciadoras, teriam a enorme vantagem de concentrar base infindável de clientes, com a capacidade algorítmica de desenvolver tal base e a competência para oferecer melhor interface de comunicação.
Tudo isso militaria em favor de risco, talvez tendência seja o termo mais neutro, de que varejistas e instituições financeiras e de pagamento sejam “envelopados” por iniciadoras ligadas a big techs, capacitadas para atender o cliente final com mais perfeição. Como resultado os clientes compradores se veriam conectados à marca de grandes sites de busca, mídias sociais e monopolistas do comércio eletrônico, os quais passariam a tratar varejistas e ofertantes de serviços financeiros como fornecedores em uma cadeia substituível, e portanto não tão bem remunerada. Essa redução de lucratividade, somada aos ônus regulatórios impostos principalmente a instituições financeiras e de pagamento, predispõe essas entidades a correr maiores riscos, de forma a manter sua lucratividade e remunerar acionistas.4 Decorre daí maior risco de abalo individual dessas instituições, e no limite de abalo sistêmico.6
É mais fácil diagnosticar do que resolver os problemas daí resultantes. Uma família de mitigadores de risco seria regulatória, por exemplo a criação de fundo de liquidez em benefício do Sistema de Pagamentos Brasileiro por tais entidades, à semelhança do Fundo Garantidor de Crédito que garante depósitos em instituições financeiras, bem como limitar o volume de transações.
Mas, à parte a solução sebastianista da regulação, existem sim medidas ao alcance dos candidatos a serem envelopados, para se prevenir de destino não tão brilhante? Parece-nos que sim, através de operações de concentração defensivas, que não ofendam a ordem econômica. Tais operações teriam justamente como alvo o fortalecimento tecnológico de varejistas, fintechs, bancos digitais e instituições de pagamento. Em uma palavra, esse fortalecimento correria menos através de aquisições de outras empresas de capital intensivo, ou detentoras de grande clientela, mas justamente de agentes econômicos que concentrem talento matemático ou de comunicação, pois justamente aí se daria a competição com as big techs.
Esses talentos muitas vezes se encontrarão em pequenas unidades empresariais fazendo trabalho artesanal, com base em boas ideias que precisam de capital para serem desenvolvidas. E as correspondentes aquisições societárias prestam-se ao recrutamento desses talentos, mais do que à conquista de ativos empresariais ou clientela. Esse tipo de operação é eventualmente chamado de acquihiring por suas características híbridas entre compra de um negócio e contratação de um profissional.
Suas vantagens em relação à contratação direta não são desprezíveis, permitindo flexibilidade em relação à forma de remuneração dos talentos atraídos, que podem continuar como dirigentes com direito a lucros da empresa adquirida, agora subsidiária da adquirente. Há também a possibilidade de incorporação do negócio pela empresa adquirente, com atribuição de postos administrativos aos antigos dirigentes. Em todas essas hipóteses importantes economias tributárias podem existir, dependendo da estrutura de remuneração escolhida. Além disso, o próprio negócio de aquisição pode gerar pagamento de ágio por lucratividade futura para a adquirente, decorrente da diferença entre o valor maior pago e o “valor justo” da sociedade alvo. Esse ágio é dedutível para fins fiscais em prazo de 60 meses.
Mas há também cautelas necessárias: sociedades de menor porte, que dependem do talento individual, devem ser objeto de análise rigorosa de contingências, pois nelas tende a ser maior a informalidade em matéria fiscal, trabalhista e mesmo contratual. Essa é a conhecida auditoria societária, muitas vezes reduzida a mera cerimônia ritualística por adquirentes apressados. Ou cujo escopo é reduzido pelo raciocínio de que o valor patrimonial reduzido da entidade sendo agregada implica necessariamente contingências menores. Nada mais errado, em uma aquisição societária apenas o proveito patrimonial é limitado no momento do negócio, a responsabilidade não conhece limites.
Assim, para além do glamour, no mercado financeiro menos tradicional, representado pelas fintechs, agora desafiadas por concorrentes muito maiores, ação estratégica, jurídica e financeira também é necessária. Afinal, como na passagem de Dante Alighieri, quem ficar estirado sobre a pluma, ou sob a colcha, não vai deixar nenhum vestígio além de fumaça e espuma.
[1] Tais regras constam das Resoluções CMN nºs 4.192 e 4.193, de 1º de março de 2013, pormenorizadas por normativos do Banco Central do Brasil, e basicamente exigem componentes de capital calculados sobre riscos de crédito, de mercado e operacionais corridos por cada instituição. A complexidade aumenta pela necessidade de formação de componentes operacionais específicos, seguindo as regras da Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017.
[2] Financial Stability Board, BigTech in finance: Market developments and potential financial stability implications, 2019, p. 4.
[3] De acordo com relatório do Bank for International Settlements, o modelo de negócio das big techs consiste na junção da análise de dados, externalidades de rede (valor do produto cresce conforme número de usuários) e de atividades interligadas (ex. deter site de vendas online e oferecer serviços de pagamento, como iniciadora de transações ou credenciadora). Para mais informações, veja-se Bank for International Settlements, BIS Annual Economic Report 2019, 2019, p. 62.
[4] Nesse sentido, Jorge Padilla e Miguel de la Mano, Big Tech Banking, Journal of Competition Law & Economics, vol. 14, 2018, pp. 18 e 19.
[5] E talvez também concorrencial, a ser analisado sob a égide da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Trata-se é verdade de tema que escapa à abrangência deste artigo, e que não tem sido objeto de abordagem frequente mesmo em países e áreas mais densas em negócios. Por exemplo, o tema do domínio de mercados por conta da capacidade de armazenar e tratar informação foi desprezado em um dos primeiros casos que tratou do assunto, o ato de concentração Google/Double Click no mercado de publicidade digital (2008), da Comunidade Europeia. Sobre o assunto, e dando notícia de rigor acrescido desde essa decisão no tratamento do assunto, por autoridades estrangeiras e brasileiras, veja-se o interessante artigo de Simone Lahorgue Nunes e Camila Mariotto, Economia digital, proteção de dados e concorrência, Valor Econômico, 23 de dezembro de 2020.
Image: Burak K / Pexels