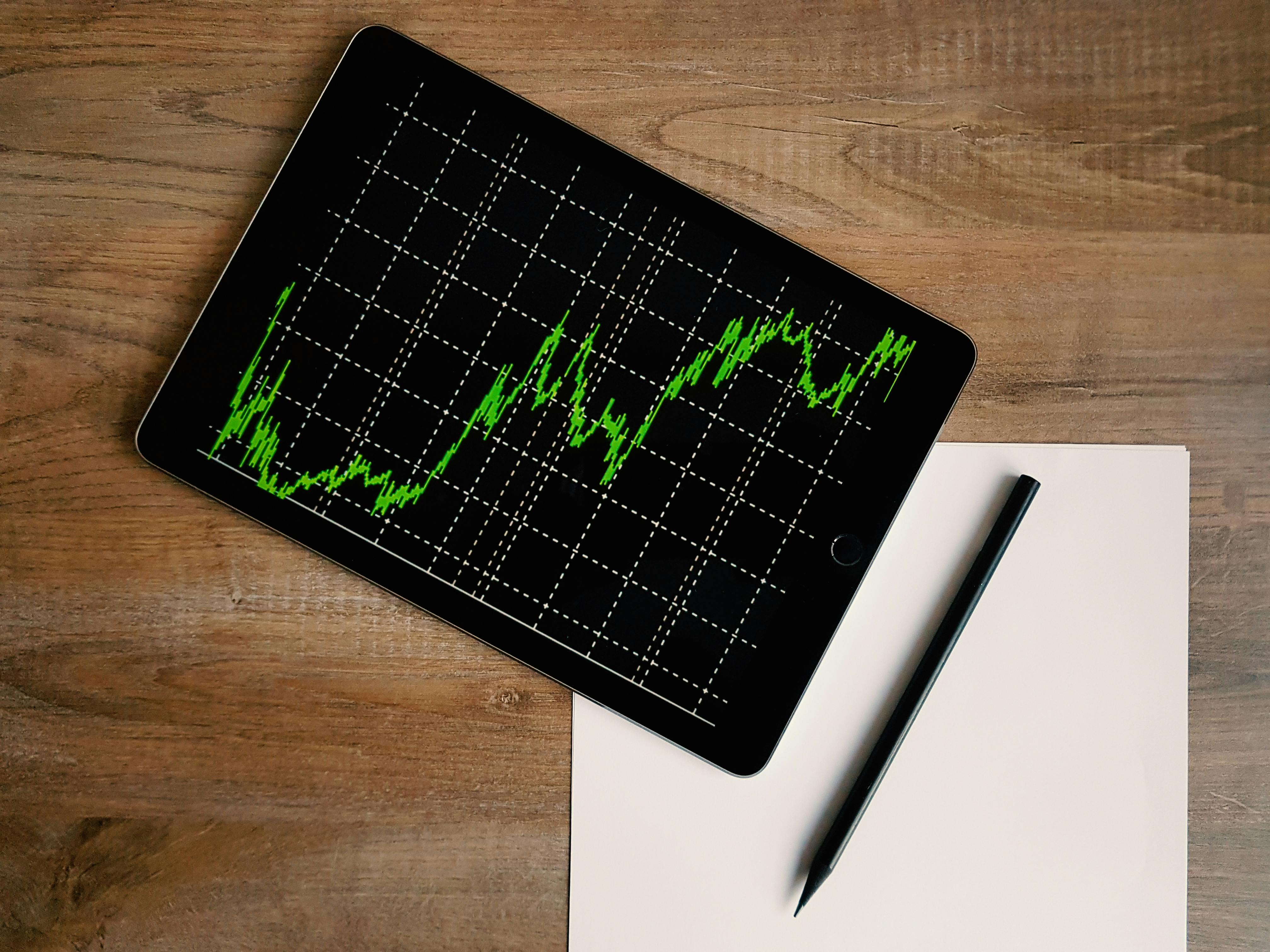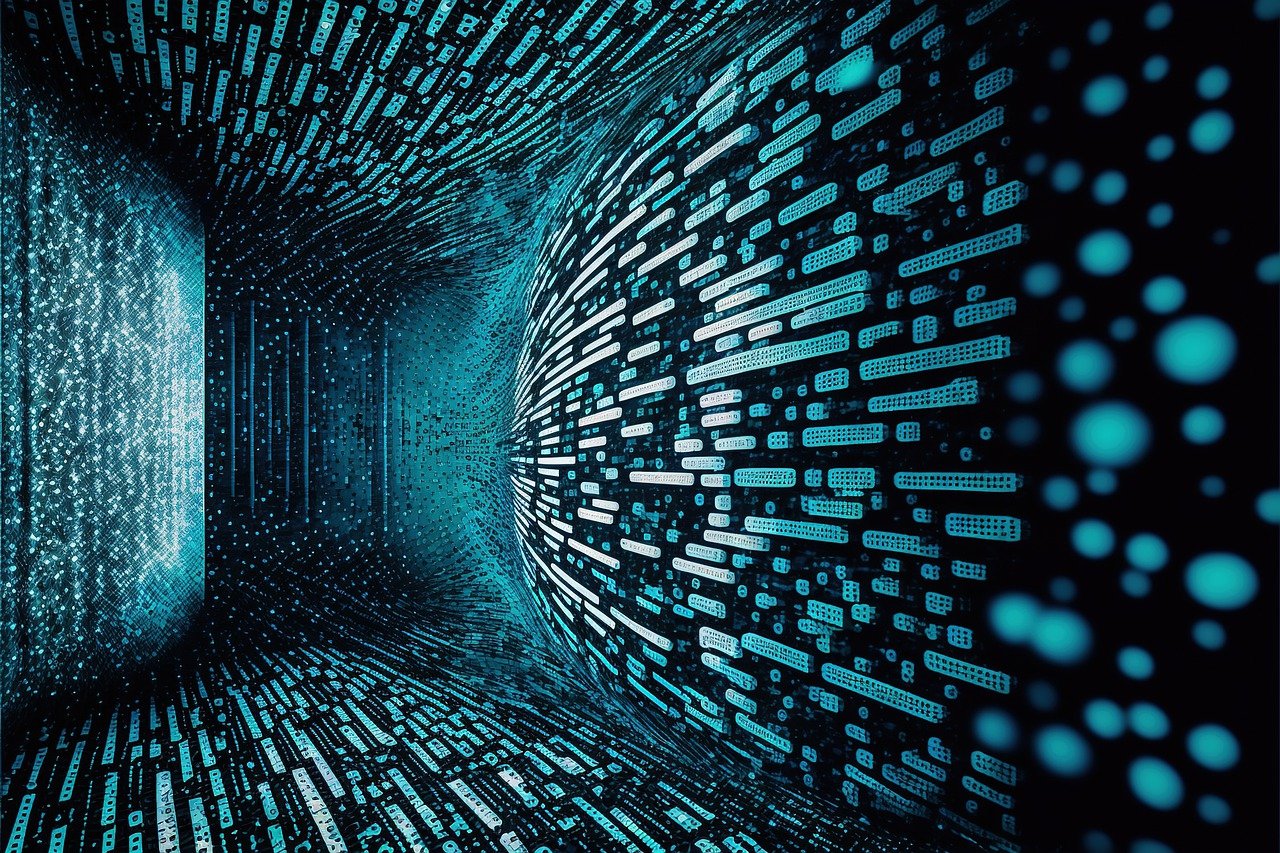Criptoativos, criptomoedas e as “exchanges” — sociedades que lidam com esses bens — em um momento inicial interessavam só a iniciados libertários. Em seguida, passaram a despertar a atenção de investidores do mercado. Depois, e estamos nesta fase hoje, aguçaram a curiosidade de agentes do mercado financeiro ou interessados em assim atuar, para servir como sucedâneos de serviços hoje oferecidos tipicamente por bancos.
Criptoativos, criptomoedas e as “exchanges” — sociedades que lidam com esses bens — em um momento inicial interessavam só a iniciados libertários. Em seguida, passaram a despertar a atenção de investidores do mercado. Depois, e estamos nesta fase hoje, aguçaram a curiosidade de agentes do mercado financeiro ou interessados em assim atuar, para servir como sucedâneos de serviços hoje oferecidos tipicamente por bancos.
Este artigo discute três desses serviços e evidencia como as “exchanges” podem praticá-los com regime regulatório favorável. Chamando também atenção para os riscos, quando existirem.
Criptoativos e ‘exchanges’: os atores do drama
O conhecimento comum sobre os criptoativos veio através das chamadas criptomoedas. Mas de fato constituem elas apenas uma das formas de criptoativos, e talvez nem mesmo a mais promissora. A riqueza do assunto pode estar na infraestrutura usada para seu registro, a “blockchain”, que se presta à circulação e registro seguros de informações, sem dependência de servidor centralizado e de seus riscos.
Os criptoativos são estruturalmente notações digitais feitas em um controle eletrônico descentralizado, ou seja, informações replicadas em múltiplos terminais conectados em uma mesma rede. Essa rede multiplicadora decorre da chamada tecnologia do livro razão distribuído (em inglês, Distributed Ledger Technology ou DLT, termo de que nos valeremos neste texto). Por trás do nome, uma funcionalidade específica decorre do livro descentralizado, a visualização de transações feitas em um registro em todos os pontos ligados à mesma rede. Isso se obtém através de infraestruturas e programas de que a rede é dotada.
A tecnologia DLT se aplica aos criptoativos, registrando a obtenção e transferência deles em blocos distintos de transações. Os blocos se seguem uns aos outros e precisam ser ativados para visualização geral pela solução de problemas, com uso de recursos computacionais, por qualquer participante da rede com recursos técnicos e computacionais suficientes (minerador). O minerador recebe ele mesmo criptoativos em pagamento, como uma espécie de comissão pela sua atividade.
Esse mecanismo de publicação de transações em bloco faz com que a DLT seja frequentemente denominada de tecnologia “blockchain”.
Mais importante ainda do que a infraestrutura técnica, para entender os criptoativos é listar as três finalidades básicas para as quais podem ser emitidos:
i) servir como meio de troca, como o bitcoin e o tether, caso em que são designados de criptomoedas, sendo esta a mais conhecida, e seminal, categoria de criptoativos;
ii) representar direito a bens ou serviços exigíveis, devidos por parte que emitiu ou participou da emissão do instrumento, caso em que designados “tokens” de utilidade; e
iii) representar investimento em valores mobiliários, caso em que designados “tokens” de investimento.
No primeiro caso, o das criptomoedas, a designação é imprópria, por faltar a elas o curso forçado que caracteriza a verdadeira moeda[2]. São sim, e apenas, meios de troca com aceitação convencional, ou seja, que precisa ser pactuada a cada transação. As criptomoedas podem ter emissão descentralizada, ou centralizada. A emissão descentralizada é a forma tradicional, e exemplo dela é a emissão de bitcoins na “blockchain” por processo teoricamente acessível a qualquer um, segundo regras de aplicação geral, sem autoridade que centralize o processo. Já a emissão centralizada se dá mais frequentemente em relação às chamadas “stablecoins”, cujo criador as coloca no mercado, prometendo sua conversão para a moeda estatal à qual esteja vinculada, a pedido do usuário.
Já os “tokens” de utilidade, segunda modalidade de criptoativos, são tipicamente de emissão centralizada, afinal alguém terá de se responsabilizar pela entrega dos bens e serviços adquiridos. Uma modalidade deles são os chamados “tokens” não fungíveis, conhecidos pelo inevitável acrônimo NFT (non fungible token), os quais podem dar direito de acesso a, ou titularidade sobre, obras únicas, reais ou virtuais, eventualmente, mas não necessariamente, protegidas pelo direito de autor.
E, finalmente, bastante similares aos “tokens” de utilidade na forma, há os “tokens” de investimento. Destinados que são a representar investimentos em valores mobiliários, sua natureza será investigada mais profundamente ao final desta seção.
Os criptoativos e sua tecnologia de suporte foram concebidos a partir da crise que abalou mercados mundiais em 2008, causada pelo descontrole no mercado de hipotecas americano. A desconfiança causada por processo que gerou miséria, principalmente em camadas desfavorecidas da sociedade, criou ânsia libertária em relação ao jugo estatal e de intermediários financeiros. Afinal, na visão corrente, os governos do mundo pouco ou nada tinham feito para prevenir a crise, e os agentes do mercado financeiro a haviam mesmo provocado. Como mostra o documentário “Trabalho Interno” (“Inside Job”), de 2010, disponível em streaming, que recomendamos para se entender o espírito do tempo.
Os ativos digitais extinguiriam a necessidade de participação governamental, inclusive na emissão de moeda, e também de instituições intermediárias, justamente os agentes que tinham falhado, ou se corrompido, dependendo da fúria do observador.
Passados anos disso, essas tendências, como outras purificadoras antes delas, não se mantiveram. De fato, os agentes estatais hoje cogitam emitir suas próprias moedas digitais com base em DLTs, através de seus bancos centrais, que podem um dia substituir com vantagem as criptomoedas.[3]
Quanto aos intermediários financeiros, ironicamente continuaram a existir mesmo em relação aos criptoativos, pois operar a tecnologia DLT através de acesso direto à rede mundial de computadores não é simples. Além disso, tal acesso depende de senhas, tendo já havido caso de criptoativos perdidos para sempre pelo falecimento de quem tinha conhecimento delas, ou pelo simples esquecimento das senhas aplicáveis.
Surgiram, portanto, empresas especializadas na facilitação do acesso aos criptoativos, operando de início através de criptomoedas. Talvez por razões publicitárias, denominaram-se de início “exchanges”, como se ao invés de intermediários cuja reputação estava abalada pela crise financeira acima, fossem bolsas (“exchanges”, em inglês) onde os ativos finais poderiam ser negociados.
Mas pouco importa, sua atividade básica é adquirir ou vender ativos digitais por conta e ordem de clientes, fazendo por eles o trabalho de acesso à “blockchain” e se registrando em nome deles como detentores dos criptoativos. Como decorrência, terá o investidor em regra mero crédito contra a “exchange”, relativo aos ativos operados em seu benefício, os quais ficam sob a titularidade da “exchange”.
Para o nosso tema, importa considerar que as “exchanges” em sua atividade típica de custodiantes de criptomoedas não são instituições financeiras, pois não preenchem o requisito de intermediarem recursos financeiros, ou custodiarem valores de terceiros, que é imposto pelo artigo 17 da Lei da Reforma Bancária de 1964 (Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964). De fato, os recursos que recebem de clientes usam para adquirir criptoativos. Assim não praticam intermediação financeira porque criptoativos não são dinheiro, e não custodiam valores de terceiros porque os criptoativos ficam na titularidade da própria “exchange”. Escapam portanto essas empresas à regulação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e à fiscalização e autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil.[4]
É verdade que também poderiam se subordinar à regulação e necessidade de autorização por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma dos artigos 16, 18 e 24 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Entretanto, esses dispositivos se referem exclusivamente a empresas que lidem com valores mobiliários, definidos no artigo 2º da Lei nº 6.385/1976. E em regra criptoativos não são valores mobiliários por não se enquadrarem na casuística cerrada dos incisos I a VIII. E também por não preencherem em regra o critério residual do artigo 2º, item IX da Lei nº 6.385/1976, de serem “quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração […] cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”.
De fato, uma criptomoeda, como o bitcoin, tem valor intrínseco para os que a aceitam, decorrente de seu poder de troca, nenhum esforço sendo necessário. Já “tokens” de utilidade dão direito a produtos e serviços pré-estabelecidos e invariáveis, faltando também evidentemente o resultado subordinado a esforços de um empreendedor. E mesmo os “tokens” de investimento frequentemente escapariam da qualificação como valores mobiliários, quando oferecessem retorno de renda fixa, sem dependência do esforço de empreendedor mencionado no artigo 2º, inciso IX da Lei nº 6.385. Ou quando simplesmente representassem valor mobiliário independente e já registrado, hipótese de que cuidaremos na seção “Tokenização de valores mobiliários”, mais à frente neste texto.
Portanto, as “exchanges” não lidam com valores mobiliários, e assim como escapam à jurisdição do CMN e Banco Central do Brasil, igualmente não se sujeitam à regulação ou necessidade de autorização da CVM. Resta ver nas seções seguintes três operações similares às de bancos que podem praticar, sempre preservando essa liberdade.
Operações de crédito com criptoativos
Operações de crédito podem ser feitas diretamente em criptoativos, ou os ter como garantia. Na primeira hipótese a “exchange” é diretamente mutuante dos recursos, e na segunda serve como agente de garantia. São maneiras lícitas de operar, que descrevemos abaixo em suas especificidades.
Empréstimo direto — trata-se aqui de determinar se as “exchange” poderiam praticar verdadeiras operações bancárias com os ativos digitais que detêm custodiados, repassando-os a terceiros como empréstimos sujeitos a remuneração, seja esta em dinheiro, seja também em criptoativos. A operação teria por objeto, tipicamente, criptomoedas, dada a possibilidade de uso delas como meios abstratos de troca, e sua volatilidade, geradora de possível ganho especulativo. Por essas características, despertam interesse de possíveis tomadores, sejam interessados apenas em recursos financeiros que possam ser obtidos pela venda dos ativos digitais, sejam interessados em especular com o valor das criptomoedas, tomando-as por empréstimos, trocando-as por moeda estatal, esperando sua baixa de cotação, e posteriormente as recomprando para quitar o empréstimo, com menor ônus financeiro, que lhes permita embolsar a diferença.
Para que esses negócios aconteçam, entretanto, a operação de empréstimo teria de configurar mútuo de coisa fungível, pois este contrato transfere a propriedade da coisa emprestada nos termos do Código Civil (artigos 586 e 587). O que permitiria ao tomador usar livremente as criptomoedas. As “exchanges”, como vimos acima, normalmente têm em seu nome as criptomoedas por conta e ordem de seus clientes. E a fungibilidade necessária para o negócio poderia ser objeto de pactuação dupla por essas empresas, de formas a preencher o requisito legal. Em primeiro lugar com o mutuário que toma a criptomoeda emprestada, em contrato que a designe genericamente. Mas mais do que isso, e principalmente, no contrato da “exchange” com o cliente original dela, que deve deixar clara a possibilidade de seu uso pela empresa para empréstimo a terceiros.
Essa possibilidade pode inclusive ter por contraprestação remuneração a ser paga pela “exchange” ao cliente em benefício de quem as criptomoedas são detidas. Mas cabe aqui uma importante observação, a impossibilidade de a remuneração ofertada ao cliente variar de acordo com a recebida pelo empréstimo das criptomoedas. De fato, se isso ocorrer estaria sendo oferecido ao cliente da “exchange” um mecanismo de investimento coletivo com remuneração variável segundo esforço de um empreendedor, a própria “exchange”. Esse investimento configuraria valor mobiliário segundo o artigo 2º, inciso IX da Lei nº 6.385/1976, e não poderia ser oferecido sem registro da oferta na CVM, o qual na prática atual teria pouca probabilidade de ser concedido[5].
Outros limites cuja aplicabilidade deve ser analisada seriam os decorrentes de regras de usura.
Presente esses requisitos, nenhum óbice haveria à atuação da “exchange” coletando e subsequentemente emprestando criptomoedas. Como já vimos na seção anterior, por não intermediarem recursos financeiros ou custodiarem valores de terceiros não ficam elas sujeitas à regulação do CMN ou autorização do Banco Central do Brasil.
Operações com garantia pela “exchange” — Mas não é só pela oferta direta de crédito em criptomoedas que as “exchanges” podem oferecer sucedâneos às alternativas do mercado financeiro. Alternativamente, podem atuar como correspondentes bancários de instituições financeiras que de fato concedam o empréstimo. Nesse caso, seu papel seria duplo.
De um lado, o de apresentação, a instituição financeira conveniada, de clientes interessados em tomar os recursos. Esses poderiam ser seus próprios clientes em operações com criptomoedas. A regulação financeira acomoda perfeitamente tal solução, sendo os correspondentes bancários tratados na Resolução CMN nº 4.935, de 29 de junho de 2021. Constituem empresas formalmente contratadas por instituições financeiras para atividades ancilares a operações de crédito, arrendamento mercantil, câmbio e outras. O artigo 12, inciso V da Resolução nº 4.935/2021 permite ao correspondente a atividade de recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito. O correspondente pode inclusive fazer a liberação de recursos por conta e ordem da instituição financeira, desde que receba dela provisão diária de recursos suficientes para tanto (artigo 15, inciso III da Resolução CMN nº 4.935/2021).
De outro lado, seriam as “exchanges” agentes de garantias em criptomoedas, garantias essas constituídas por eventuais ativos dos seus clientes interessados nos recursos. Isso permitiria a tais clientes mobilizar recursos financeiros a partir de sua carteira de criptomoedas detida com uma “exchange” centralizada, sem precisar se desfazer de ativos em cuja valorização acreditem, ou que estejam momentaneamente desvalorizados no momento em que os recursos precisem ser levantados.
Para isso, os clientes da “exchange” ofereceriam os direitos a criptomoedas que detêm contra a empresa em garantia das operações de que são beneficiários, caso em que a “exchange” firmaria também o contrato, na qualidade de agente de garantia da instituição financeira representada. Seu papel seria usar as criptomoedas para pagamento da dívida na forma permitida pela legislação sobre garantias, caso a garantia precisasse ser honrada. Por essa função podem inclusive as “exchanges” receber pagamento pro rata temporis da instituição financeira ao longo do prazo do contrato, sem que para esse pagamento seja estabelecido qualquer limite regulamentar (artigo 15, inciso IV, letra b da Resolução CMN nº 4.935/2021).
Esse último papel da “exchange”, note-se, não viola a proibição de que correspondentes bancários deem garantia às operações que originaram, a qual consta do artigo 14, inciso IX da Resolução CMN nº 4.935/2021, porque o objeto da garantia é o direito do tomador dos recursos contra a própria “exchange”, interferindo a “exchange” apenas para instrumentalização da garantia.
Mais duvidoso seria o tema se o objeto da garantia fossem as próprias criptomoedas registradas em nome da “exchange”: nesse caso seria ela a titular dos ativos, e portanto ao menos formalmente a garantidora da operação, embora substancial e economicamente o garantidor em termos econômicos fosse o cliente da “exchange”, que afinal sofrerá o ônus de perda de seus direitos se não puder honrar a operação. Em todo caso, temos que a dúvida regulatória nesse último caso será forte o suficiente para desestimular a tomada de garantia dada diretamente pela “exchange” sobre as criptomoedas.
Possível, portanto, segundo a lei e regulação, que “exchanges” ofertem a seus clientes, como correspondentes bancários de instituições financeiras, operações de crédito, a serem garantidas pelos direitos detidos pelos próprios clientes contra a “exchange”.
Tokenização de valores mobiliários
A tokenização de um valor mobiliário por uma “exchange” é a criação de uma representação eletrônica dele, tipicamente acessível por senha, representação essa que pode inclusive ser negociada. A “blockchain” que anteriormente analisamos oferece a infraestrutura para tanto, permitindo o registro simultâneo de titularidade e negociação dos “tokens”.
Mas essa possibilidade, ao menos para as “exchanges” como hoje constituídas, encontraria obstáculo se fossem os “tokens”, representativos de valores mobiliários, também eles mesmos valores mobiliários, pois, nesse caso, sua própria emissão de forma pública obrigaria a obtenção de registros com a CVM, a saber:
i) da exchange que os emitisse, como exigido pelo artigo 21, § 1º da Lei nº 6.385/1976, em cujos termos [s]omente os valores mobiliários emitidos por companhia registrada podem ser negociados na bolsa e no mercado de balcão, sendo o regramento específico para registro especificado pela Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009; e
ii) da própria emissão, como exigido pelo artigo 19 da Lei nº 6.385/1976, sendo o regime específico do registro dado pela Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.
Essas regras, no entanto, se aplicam só ao emissor de valores mobiliários, e à emissão dos mesmos. Seria a tokenização um processo criador de valores mobiliários consistentes nos próprios “tokens”?
Para responder, há que diferenciar valores mobiliários, de um lado, e documentos de legitimação, de outro.
Os valores mobiliários são criadores de direitos, frequentemente por via de declarações unilaterais de vontade, as quais são uma fonte de obrigações segundo o Código Civil. Diferentes deles são os chamados documentos de legitimação, que simplesmente comprovam a titularidade de uma relação jurídica, tipicamente de um direito, mas não o criam. Os documentos de legitimação são ainda subdivididos pela doutrina em títulos de legitimação, se passíveis de transferência, e comprovantes de legitimação, em caso contrário. São exemplos de documentos de legitimação os cartões de crédito em plástico, as entradas de teatro ou mesmo bilhetes de transporte[6]. Em todos esses casos, o direito do portador do documento de legitimação é criado por estrutura contratual anterior, o contrato de emissão de meio de pagamento pós pago no caso de cartões, o contrato de exibição ou o contrato de transporte.
Ocorre que em época de desmaterialização como a nossa, os documentos de legitimação podem ter forma eletrônica, e essa é a natureza jurídica dos “tokens”. Portanto, constituem criatura diferente de contratos, declarações de vontade e valores mobiliários, destinando-se meramente à constituição de prova de que seu detentor é titular de uma relação jurídica independente[7]. Ou seja, provam que o detentor é titular de ação, debênture ou outro título ou direito, sem nada inovar ou criar em matéria de relações jurídicas substanciais.
Assim, o “token” não se confundirá com a ação, debênture ou outro título ou direito que lhe seja subjacente.
Pois é esse estado de coisas que propicia às “exchanges” de criptoativos a possibilidade do uso de sua aptidão técnica em relação à “blockchain” para o desempenho de atividade “bancária”. Poderão de fato emitir “tokens” que deem acesso a valores mobiliários, por enquanto sem a aplicação de regulamentação inexistente da CVM, e operar sua circulação na “blockchain”. Haverá claro de se construir direito paralelo ao “token”, justamente o que é tokenizado, e que um dia possa levar ao valor mobiliário final. Este direito é uma promessa de prestação de serviços pela “exchange” ao detentor do “token”, segundo a qual tal detentor poderá usar os serviços da “exchange” para obter a transcrição em seu nome do valor mobiliário, no momento de sua negociação. Note-se que a promessa seria geradora de mero direito pessoal do adquirente do “token” contra a “exchange”, e não de direito real incidente sobre a própria ação, como já mencionamos em relação a criptomoedas na seção “Criptoativos e ‘exchanges’: os atores do drama”, acima.
Claro que esse “token” e os direitos de recebimento de serviço não são quaisquer dos valores mobiliários designados tipologicamente no artigo 2º, incisos I a VIII da Lei nº 6.385/1976, por falta de afinidade estrutural e funcional com eles.
Finalmente, o “token” e o direito a prestação de serviços pela “exchange” que representa não serão também valores mobiliários pelo caso residual do artigo 2º, inciso IX da Lei nº 6.385/1976, o qual abrange “títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, […]cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros” (sem destaque no original). Aqui de fato não é o documento de legitimação criado por “exchange” na forma de “token” que gera o direito de participação, parceria ou remuneração. Como não será, o direito de receber da “exchange” serviços para a transferência de valores mobiliários, gerador direto de quaisquer resultados. Este direito a resultados já existe e decorre do valor mobiliário já emitido[8].
Não devem, entretanto, espíritos excitáveis supor anomia ou risco para o mercado de tal prática, porque as normas de registro de emissor e distribuição continuarão sempre aplicáveis. Em outras palavras, será sempre necessária a participação de instituição do sistema de intermediação, como definida no artigo 15 da Lei nº 6.385/1976, para a oferta ao mercado. Com a obrigação de se assegurar que as informações da oferta sejam “verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes”, prevista no artigo 56, §1º da Instrução CVM nº 400/2003, entre outras no mesmo normativo. Será aplicável também o registro da emissora nos termos da Instrução CVM nº 480/2009. Mas o ponto é que esses registros seriam paralelos à atuação da “exchange” tokenizadora, devendo ser promovidos pela ofertante e intermediários sem participação dela.
Não seria, claro, possível fazer tokenização de valores mobiliários a serem emitidos independentemente de seu emissor. De fato, para o funcionamento do negócio o emissor deveria necessariamente autorizar a “exchange” a exercer suas funções, de forma que os “tokens” possam potencialmente se transformar nos valores mobiliários subjacentes. Isso pode ser feito por meio de instrumento contratual celebrado entre emissor e “exchange” que, além de prever a emissão dos “tokens”, obrigue emissor, “exchange” ou se for o caso instituição coordenadora a manterem lastro de títulos que correspondam ao montante deles tokenizado, bem como fazer registro do lastro em favor dos detentores dos “tokens” quando isso seja por solicitado pela “exchange”.
Há outros pormenores a considerar, como o destino a ser dado a rendas como dividendos propiciadas pelos títulos finais, e seu correto tratamento contratual. É, entretanto, matéria eminentemente prática que escapa ao objetivo deste trabalho.
Efeitos cambiais de operações com criptoativos
Contexto geral — Ao menos desde a década de 1930, dificuldades cambiais brasileiras levaram à criação de legislação cambial intrincada, que foi sendo renovada até os dias de hoje. A regra básica, ao lado de muitas outras, consistia e consiste na necessidade de interposição obrigatória de entidade autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil nas operações de câmbio, tipicamente bancos, mas também sociedades corretoras, distribuidoras e instituições de pagamento. É por causa dessas regras de intermediação obrigatória que as operações de câmbio são tipicamente “bancárias”.
Esse arcabouço legislativo é ainda secundado por muitas outras normas relativas a operações e contratos de câmbio, como a Resolução CMN nº 3.568, de 29 de maio de 2008, e a Circular nº 3.691, do Banco Central do Brasil, de 16 de dezembro de 2013, cuja descrição transcende o objetivo deste artigo[9].
A violação de regras cambiais pode trazer responsabilidade administrativa e criminal, a primeira na forma da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, e a última constante do artigo 22 da Lei de Crimes do Colarinho Branco (Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986), em caso de existência de evasão de divisas.
Mas seria possível através de criptoativos realizar operação de câmbio? Para responder deve-se partir da reflexão que o contrato de câmbio nada mais é que um contrato de compra e venda com uma característica específica: nele o que se negocia contra moeda nacional é um tipo especial de mercadoria, a moeda com curso forçado em outro país, que não é moeda no Brasil, mas o é alhures. A partir disso, enfocaremos a questão em seus dois ângulos, (a) a simples aquisição de criptomoedas ou (b) a aquisição seguida de venda de criptomoedas, com contraprestação em moedas diferentes em cada uma das transações.
Aquisição direta de criptomoedas — Na aquisição direta de criptomoedas, a resposta é simples. Quando adquiridas contra moeda nacional, não pode haver operação de câmbio, pela inexistência de troca de moedas. Só moeda nacional circula, e não moeda estrangeira, pois a criptomoeda não é moeda em sentido jurídico pela falta de curso forçado no Brasil, dada sua aceitação meramente convencional entre participantes da “blockchain”, que destacamos na seção “Criptoativos e ‘exchanges’: os atores do drama”, acima. Se a criptomoeda for adquirida através de pagamento em moeda estrangeira ou em outras criptomoedas, sequer moeda brasileira existirá, configurando-se simples permuta, ainda mais distante do contrato de compra e venda que configura a operação de câmbio. Impossível será, portanto, aplicar nessa hipótese regras administrativas e penais em matéria de câmbio às criptomoedas. Tudo isso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma, estatuindo que a atuação especulativa no mercado bitcoin não caracteriza por si só evasão de divisas — Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 161.123 – SP (2018/0248430-4).
Aquisição e revenda de criptomoedas — Mas e se houvesse aquisição e subsequente revenda de criptomoedas contra pagamentos em moedas diferentes? Por exemplo, adquirindo-se criptomoedas em moeda nacional, como o real, e revendendo-as em seguida em moeda estrangeira, como o euro ou o dólar. Ou vice-versa. Nesses casos, claro que a conclusão do parágrafo anterior se aplicaria a cada fase negocial isolada. Mas seria possível considerá-las conjuntamente como troca de moedas, com base em seu efeito econômico? Afinal, o resultado seria que parte que normalmente tivesse posição em uma moeda estatal acabasse por trocá-la por posição em outra moeda estatal, sem que a criptomoeda intermediária fosse ao final detida. Se essa consideração conjunta fosse possível, aí sim haveria infração às normas sobre interveniência de instituição autorizada a operar em câmbio, e, por reflexo, do artigo 22 da Lei de Crimes do Colarinho Branco.
Como paradigma, no passado houve iniciativa estatal de perseguição na esfera administrativa e criminal, nas operações chamadas “blue chip swaps”, que guardam analogia com a acima descrita. Ocorria nelas a aquisição no Brasil de títulos do governo americano, ou outros títulos financeiros similares, em moeda nacional, seguida por sua revenda em moeda estrangeira em curto espaço de tempo, ou vice-versa. Como resultado prático, trocava-se a moeda nacional por moeda estrangeira, se consideradas as duas transações encadeadas. Essas operações não escaparam de condenações na instância administrativa, pelo Banco Central e em grau recursal pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)[10]. De maneira geral, esses julgados não conseguem fazer qualquer censura objetiva às operações de “blue chip swaps”, apelando em suas razões de decisão para conceito genérico de fraude à lei, decorrente de uso de categorias jurídicas lícitas para resultado vedado. Mas se trata de explicação tautológica e não convincente, afinal, o que seja resultado vedado só a lei poderia dizer. Mais ainda, a lacuna em área sujeita à regulação especializada do CMN deveria ser interpretada como autorização, e não como lapso resultante do desconhecimento do legislador.
Outra fundamentação comum é a de que operações de “blue chip swaps” seriam simulações. Negócios jurídicos simulados são nulos, mas subsiste aquele que se dissimulou, pelo artigo 167 do Código Civil. “Verdadeiro” negócio seria o contrato de câmbio, que deveria ter atendido às normas regulamentares, que demandam formalização por instituição autorizada a operar no mercado de câmbio. Mas este raciocínio de novo é errado. Se as operações individuais com criptomoedas efetivamente ocorrem, não há simulação, mas negócio jurídico indireto, ou seja, aquele negócio de efeitos reais, mas finalidade econômica diversa daquela para a qual outros negócios de mesmo tipo são praticados[11]. Isso será lícito por não haver causa específica de nulidade, como objeto ou motivo ilícitos, inexistindo legislação proibitiva na matéria[12].
Por isso, ainda que feita analogia entre operações de compra e venda sucessivas de criptomoedas e “blue chip swaps”, não seria correto impor as primeiras regras aplicáveis a contratos de câmbio, cuja natureza não partilham, e que não simulam.
E note-se que mesmo que constituíssem operação cambial, ainda assim teria de ser provado o elemento fluido da evasão de divisas para que, a par de ilícito administrativo, existisse o crime do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986. E isso encontraria duas dificuldades.
A primeira é que o termo divisa consiste essencialmente em moeda estrangeira detida pelo residente de um país, quer em espécie, quer, mais frequentemente, através de créditos contra instituições depositárias, normalmente bancos. E assim, independentemente de qualquer indagação sobre a natureza do contrato de câmbio: não haveria evasão quando a moeda estrangeira, pela qual as criptomoedas são compradas ou vendidas, terminasse em conta de pessoas físicas ou jurídicas aqui residentes. Em outras palavras, só existiria crime quando, após a revenda em moeda estrangeira de criptomoedas, o destinatário final do valor da venda não fosse residente no Brasil, e desde que o pagador fosse[13].
A segunda dificuldade é que para a tipificação criminal seria necessário dolo específico, pois o crime exige a intenção de evasão de divisas. Portanto, não se podem criminalizar compras e revendas de criptomoedas em que não existe essa intenção, e sim outra, como (a) obter ganho em operações de arbitragem, ainda que de curto prazo, ou (b) evitar perda em conjuntura de mercado desfavorável para a criptomoeda.
Essas considerações não afastam de todo o risco. Elas decorrem de tradicional hesitação sobre o câmbio mesmo em setores especializados da administração pública, presa entre a teoria jurídica correta e o temor de esgotamento de divisas internacionais, sem as quais o país ficaria privado de insumos básicos, como combustíveis e fertilizantes. Assim, por exemplo, mesmo reconhecendo que as criptomoedas não são moeda nacional ou estrangeira, o que afastaria o regime cambial, o Banco Central do Brasil já se manifestou de forma incongruente no sentido de que transferências internacionais por meio de moedas virtuais “devem ser feitas por instituições autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio, que devem observar as normas cambiais” (Comunicado n° 31.379, de 16 de novembro de 2017).
Por isso, as “exchanges” que façam intermediação de operações desse tipo podem mitigar riscos se cercando de contexto que comprove sempre que possível a intenção de investimento especulativo de seus clientes, quando comprem e vendam criptomoedas em operações tendo por contraprestação diferentes moedas estatais, por exemplo fazendo análise documentada do perfil de clientes e de suas intenções de negociação, ou impondo prazo mínimo entre aquisição e revenda de criptomoedas. Medidas que diminuem a possibilidade de contestação injusta, mas que não são cartesianamente necessárias para que operações de compra e revenda de criptomoedas sejam lícitas perante a legislação cambial, porque isso já acontece de qualquer forma pelas razões técnicas acima.
Conclusão
Vivemos em uma sociedade midiática, em que, para o bem ou para o mal, com conteúdo ou sem ele, a capacidade de comunicação é decisiva para o sucesso, pessoal e no mundo dos negócios. Por causa disso, uma tendência é a ascensão de empresas que por habilidade intrínseca, atenção dos meios de comunicação, afinidade com temas em voga no inconsciente coletivo, ou por outras motivações presentes no drama humano, consigam capturar a atenção.
Proeminentes entre elas, estão as “exchanges” de criptomoedas, que aliam a perspectiva de ganho à proposta libertária de escape à rigidez dos agentes financeiros tradicionais, como bancos.
Por isso, têm grande potencial para, a partir de sua atividade tradicional de facilitar a aquisição de criptomoedas por pessoas físicas e empresas, fazer mais, muito mais. Isso se daria pelo envelopamento de atividades que hoje são prestadas por instituições financeiras tradicionais, a concessão de empréstimos, a intermediação na oferta pública de valores mobiliários como ações e as operações de câmbio, as quais podem, mesmo com as leis atuais, já passarem para a égide desses novos agentes.
[1] Este trabalho foi originalmente preparado em versão estendida para integrar livro ainda inédito comemorativo dos 90 anos do professor Modesto Carvalhosa, à cuja obra docente na área do Direito Comercial o autor renova a homenagem.
[2] Veja-se a constatação dessa característica, por exemplo, na doutrina clássica de F. A. Mann: It is suggested that, in law, the quality of money is to be attributed to all chattels which, issued by the authority of the law and denominated with reference to a unit of account, are meant to serve as universal means of payment in the State of issue. (F. A. Mann, The Legal Aspect of Money, 5. ed., Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 8).
[3] Sobre o tema, Luiz Roberto de Assis, Os Desafios da Moeda Digital Soberana, https://www.levysalomao.com.br/publicacoes/artigo/os-desafios-da-moeda-digital-soberana, acessado em 3 de janeiro de 2022.
[4] Há entretanto decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que consideram empresas investidoras em criptomoedas (supostamente exchanges) e eventuais fiadoras do negócio como instituições financeiras: Apelação nº 1012155-24.2020.8.26.0032 e Apelação nº 1019204-19.2020.8.26.0032, em Acórdãos datados de 12 de maio e 16 de junho de 2021, respectivamente. As decisões se apegam à literalidade do artigo 17 da Lei nº 4.595/1964, provavelmente influenciadas por percepção de equidade no caso concreto, chegando a resultado pouco técnico.
[5] Ver acima a seção Criptoativos e Exchanges: Os Atores do Drama.
[6] Para uma elegante explicação doutrinária relativa aos documentos de legitimação, veja-se Tullio Ascarelli, Teoria Geral dos Títulos de Crédito, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 1969, p. 172 a 174.
[8] Sobre a conclusão neste parágrafo, note-se posição do colegiado da CVM em decisões que, ao arrepio da letra da lei, ignoram a necessidade de que o ganho oferecido pelo valor mobiliário seja decorrente do esforço empresarial do empreendedor ou de terceiro, como exigido pelo artigo 2º, inciso IX da Lei nº 6.385/1976: voto vencedor no Processo CVM nº RJ 2003/0499, relativo a CEPACs da Prefeitura de São Paulo, e decisão unânime no Processo CVM Nº RJ2007/11.593, relativo a CCBs. Sobre a última decisão, veja-se ainda a oposição a ela de Nelson Eizirik, Ariadna B. Gaal, Flavia Parente e Marcus de Freitas Henriques, Mercado de Capitais – Regime Jurídico, São Paulo, Quartier Latin, 2019, p. 187 a 189.
[9] Para panorama geral sobre a regulação cambial, veja-se Eduardo Salomão Neto, Direito Bancário, 3ª edição, São Paulo, Trevisan, 2020, p. 352 e seguintes. Esse regime pode sofrer alteração por efeito da Lei nº 14.286, de 29 de dezembro de 2021, mas regulação infralegal pelo Banco Central do Brasil é prevista na própria lei e não deixará de existir.
[10] Nesse sentido, veja-se: Recurso nº 12375, levando ao Acórdão nº 11.206, de 21 de janeiro de 2014; Recurso nº 12381, levando ao Acórdão nº 11.207, de 21 de janeiro de 2014; e Recurso nº 13941, levando ao Acórdão nº 520, de 21 de novembro de 2017.
[11] Tese reconhecida em relação a blue chip swaps, aliás, no Acórdão nº 11.205, de 21 de janeiro de 2014, do CRSFN, proferido no Recurso nº 12.072, que entretanto terminou em condenação pela consideração, em nosso entender incongruente, de que haveria fraude à lei em caso de empréstimos externos, por haver lei específica sobre o tema. Tullio Ascarelli, Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado, São Paulo, Edição Saraiva, 1969, p. 94 a 97 explicou com elegância, e em texto clássico, as características do negócio jurídico indireto.
[12] “Código Civil. Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV – não revestir a forma prescrita em lei; V – for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
[13] Esse assunto é pouco versado na jurisprudência brasileira, mas a que existe parece confirmar nossa posição: V – A evasão não pressupõe, necessariamente, a saída física do numerário, consistindo, de fato, no prejuízo às reservas cambiais brasileiras, independentemente de estar entrando ou saindo o dinheiro do País (Acórdão no STJ no Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 9.281/PR. [1999/0104279-8] Rel. Ministro Gilson Dipp, DJU de 30-10-2000. REsp no 411.522. Rel. Min./ Laurita Vaz. DJU de 15-3-2004).
Imagem: St_visualization / Pixabay